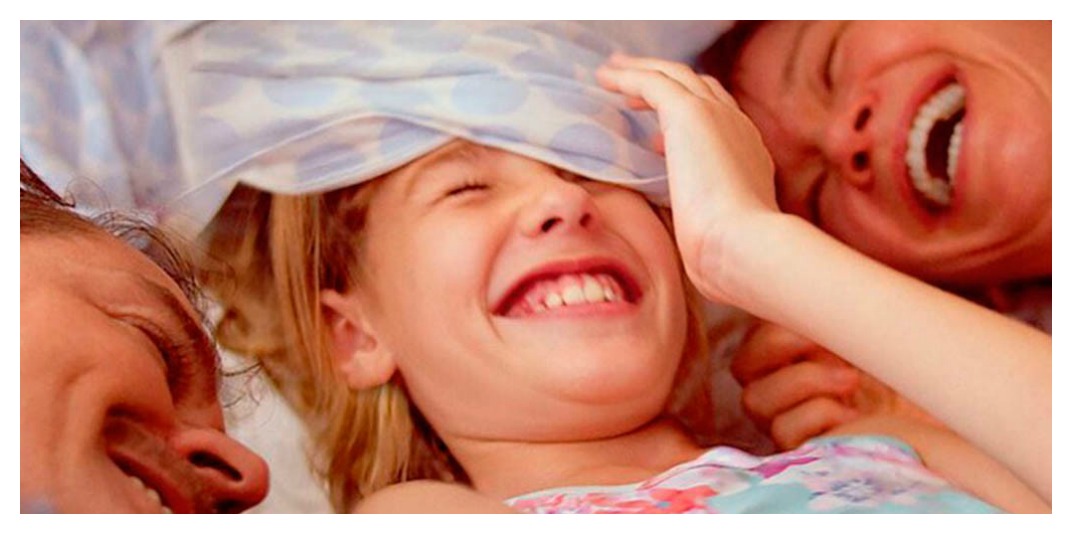Pequeno Segredo (Idem, 2016) de David Schurmann: vale um Framboesa de Ouro
Se morar no mar já não deve ser tão fácil para uma família, o que dizer de uma que adota uma criança com uma doença incurável? Sem dúvida, os fatos reais vividos pela família Schurmann foram repletos de sentimentos difíceis de lidar. Mas sua dramatização em tela, “Pequeno Segredo” (Idem, 2016) de David Schurmann, definitivamente não é nada emocionante.
O drama é dividido em três narrativas díspares, mas que previsivelmente vão se verter em uma única história.
Casal de meia idade, os Schurmann (Julia Lemmertz e Marcello Antony) vivem da forma mais feliz possível ao lado da pequena Kat (Mariana Goulart), pré-adolescente com uma doença incurável; A jovem amazonense Jeanne (Maria Flor) descobre em seu amor por Robert (Erroll Shand), um nômade vindo da Nova Zelândia e de passagem pelo Brasil; e Barbara (Fionnula Flanagan), uma senhora da Nova Zelândia que se tornou fria e solitária – apesar da companhia do esposo adoentado, e é capaz de tudo para conseguir o que quer.
Ponto negativo para a montagem ao apresentar uma narrativa sem fluidez. Além disso, mesmo com três histórias diferentes, e até de tempos distintos, não há diferenciação alguma de fotografia na obra. Nem cores, filtros ou sentimentos, que façam crer em universos divergentes, e o resultado é que recebemos imagens sempre limpas e cristalinas. Querem realçar o tom bonito das imagens? Que seja, mas narrativamente não funciona.
Ter Antônio Pinto como autor da trilha sonora é incrível. Compositor de obras como Amy (2015), Colateral (música adicional, 2004), Cidade Deus (2002) e Central do Brasil (1998), aqui ele continua a demonstrar seu inegável talento. O problema é um uso em demasia de seus emotivos acordes. Se o vento dá, tome trilha. Imagem abre na paisagem, sobe o som. Um personagem entra, mais uma instrumental. Kat aparece, Kat brinca, Kat dança, Kat chora, trilha, trilha, trilha e trilha sem cessar. Antônio Pinto parece que fez hora extra para engrandecer as imagens e envolver algum tipo de sentimento às imagens genéricas do diretor.
Mesmo tentando levar uma vida normal, o jovem Kat sempre se encaixa no roll dos desprezados. É sempre a miúda, a pequenina, em um alto encaixe óbvio de rejeição social. Até mesmo a sua melhor amiga, carrega a mesma questão. E com isso, o tom de previsibilidade só se agiganta na medida em o drama avança. A estreante Mariana Goulart não consegue construir nenhum tipo de conexão emocional com o público, sendo apenas uma criança bonitinha.
Na pele dos pais adotivos, Julia Lemmertz e Marcello Antony, a mãe leva clara vantagem, até mesmo pela força maior dentro do longa. Lemmertz é tão maravilhosa que consegue sair da uma obra tão fraca como essa sem se ferir. Sua dor como mãe é crível até. Já Antony tem poucos momentos para demonstrar alguma intensidade na trama.
Do lado internacional do elenco, Fionnula Flanagan (Os Outros, 2001) é extremamente prejudicada pelo roteiro maniqueísta. Com uma personagem exageradamente tosca, é sempre colocada como o lado malvado da história, contudo é apenas uma senhora egoísta e preconceituosa. E Erroll Shand? Resume-se em ser um corpo que emite sons que variam entre o inglês e o português, e beirando zero em química com seu par, Maria Flor.

Depois do obscuro filme de horror ‘quero-ser-Bruxa-de-Blair-mas-é-somente-lixo’, Desaparecidos (2011), produzido com a técnica de found-footage (feito a partir de imagens supostamente encontradas em câmeras de mão), o cinema de David Schurmann evoluiu muito. Agora ele assina um drama tão emocionante quanto um comercial de margarina, ou mesmo tão épico quanto uma propaganda de turismo. E com ares de superprodução, bem diferente do pequenino filme de estreia.
Abrindo desde o princípio um arco gigantes para tentar chegar à emoção, o drama inteiro apela para o choro fácil. Todavia, atinge apenas o lugar comum, e até quando tentar ser poético, é brega, cafona mesmo. Se salva a sequência do ballet, que soa como uma despedida terrena, e depois arranha algo de bom na despedida espiritual. Claro, sem medo de tentar impactar o público, faz questão de incluí-la não uma, mas duas vezes para entoar algo grandioso. Que não é.
Para finalizar, antes dos créditos finais ainda somos obrigados a receber uma tentativa de golpe de misericórdia na comoção alheia, mas que só deixa a obra ainda mais com cara de filme caseiro de família, misturado com especial de TV (ruim) no final do ano. E é com esse conteúdo que o Brasil vai tentar uma nomeação ao Oscar de filme estrangeiro, apontado como um produto com “cara de Oscar”. Para mim, tá mais para Framboesa de Ouro, pois cinematograficamente é um filme triste. Mas não pelos motivos certos.